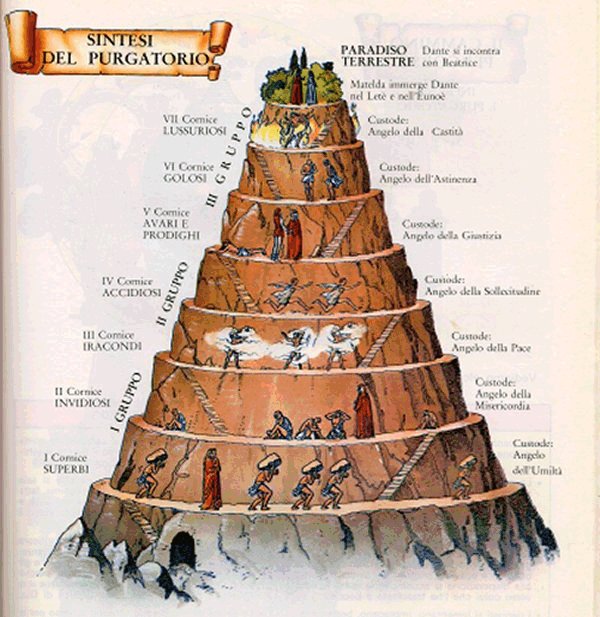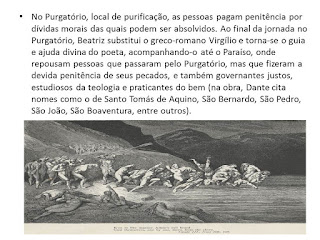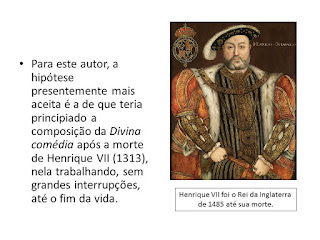Vigiar e punir
Vigiar e punir é concebido como
uma genealogia do sujeito individual moderno (Foucault, 1983), cujo corpo dócil
e mudo reflete a interconexão de poder
disciplinar e ciência social normativa. A ênfase nestas duas palavras é
importante pelo fato de que disciplina e normalização são de importância
central para a caracterização que Foucault faz da sociedade moderna, como
veremos mais adiante. Por outro lado, embora o livro seja apresentado como uma
história do “nascimento da prisão” , seu objeto central, foi escrever a
história da “razão punitiva” (Foucault, 1980e, p. 144). Isto é, o poder de
punir aparece conectado ao conhecimento fornecido pelo discurso científico,
cujo fundamento é a razão.
Foucault (1975, p. 27) justifica
porque ele escreveu o livro com as seguintes palavras:
Objetivo deste livro: uma história
correlativa da alma moderna e de um novo poder de julgar; uma genealogia do
complexo científico-judiciário atual onde o poder de punir se apoia, recebe
suas justificações e suas regras, estende seus efeitos e mascara sua exorbitante
singularidade.
O objetivo de Foucault é,
portanto, revelar o que ele denomina “exorbitante singularidade” desse sistema
jurídico. As três figuras de punição, descritas no livro como um tipo de
processo evolucionário, são ilustrativas da forma escolhida por Foucault para
desmascarar as relações de poder ocultas no nosso sistema jurídico.
O objetivo de Foucault é,
portanto, revelar o que ele denomina “exorbitante singularidade” desse sistema
jurídico. As três figuras de punição, descritas no livro como um tipo de
processo evolucionário, são ilustrativas da forma escolhida por Foucault para
desmascarar as relações de poder ocultas no nosso sistema jurídico.
As três figuras de punição são
representadas no livro, primeiro, pela tortura do condenado; segundo, pela
reforma humanista que procura modificar a forma de punição baseada na tortura
física pública; e, finalmente, pelo confinamento do condenado em prisões
(Foucault, 1975). Cada uma das formas de punição tem sua particularidade: para
a primeira forma de punição, a tortura pública é paradigmática. Tortura
refere-se diretamente ao direito do soberano sobre o corpo do condenado. Tortura torna-se um ritual
político: porque a lei violada pelo criminoso representava a vontade do
soberano, o crime era entendido como um ataque ao rei. Este tinha de
contra-atacar para mostrar a força e a magnitude de seu poder, isto é, o poder
embutido na lei. Como o rei incorporava a lei através de seu poder, violar a
lei significava um ataque ao corpo do rei. A reação do poder do rei sobre o
condenado tinha então de ser dirigido ao
corpo do criminoso, cuja tortura devia significar a revelação não só do horror
do crime, mas também o poder do soberano. Por outro lado, o julgamento do
criminoso era levado a efeito secretamente, e a verdade do crime só se revelava
por meio da confissão pública do condenado – sob tortura – antes de sua morte.
Assim, verdade, poder e corpo aparecem claramente interconectados nessa forma
de punição.
Como um ritual político
teatralizado, entretanto, a forma de punição definida como tortura soberana
deixava aberta a possibilidade de resistência da população ao poder do rei.
Revolta popular e distúrbio social poderiam então surgir como o outro lado
desse ritual de tortura, quando o condenado ganhava a simpatia da população
(Foucault, 1975, p. 75). Isso podia ocorrer principalmente quando o crime era
associado com a divisão hierárquica da sociedade. Esse paradoxo da tortura
soberana foi, segundo Foucault, o principal motivo por trás do projeto
elaborado pelos reformadores humanistas.
Assim, para Foucault, durante o
século XVIII, um grupo de reformadores, agindo em nome do humanismo, atacou o
excesso de violência levada a efeito na tortura do criminoso, e desenvolveu uma
nova interpretação da punição. Em nome do humanismo, os reformadores clamaram
pela abolição do ritual de atrocidade representado pela tortura pública dos
condenados, que, para os reformadores, era uma cerimônia de violência do
soberano assim como do povo. Nas palavras de Foucault (1975, pp. 75-76):
Muito rapidamente o suplício se
tornou intolerável. Revoltante, se olharmos o lado do poder, onde ele traía a
tirania, o excesso, a sede de revanche, e o “cruel prazer de punir”.
Vergonhoso, quando se olha o lado da vítima, que se reduz ao desespero, e de
quem se queria ainda que abençoasse “o céu e seus juízes por quem ela parecia
abandonada”. Perigosa de toda forma, pelo apoio que ali encontra, uma contra a
outra, a violência do rei e aquela do povo.
Como se o poder soberano não
enxergasse, nessa emulação de atrocidade, um desafio que ele próprio lança e
que poderia muito bem ser enfrentado um dia: acostumado “a ver correr o
sangue”, o povo aprende rapidamente “que ele só pode se vingar com sangue”.
Nessas cerimônias que são o objeto de tantos investimentos adversos, percebe-se
o entrecruzamento entre a desmesura da justiça armada e a cólera do povo que é
ameaçado.
Nos argumentos de Foucault, o que
parece ser a razão última por trás das intenções dos reformadores era a
intenção de evitar uma situação na qual os excessos de violência tanto do rei
como do povo pudessem levar a uma confrontação entre tirania e rebelião. É
necessário, então, mudar a forma de punição. Em vez do sistema da tortura soberana,
criticada ao mesmo tempo por seu excesso e por sua insuficiência, o novo
sistema proposto pelos reformadores tentou combinar indulgência com eficiência.
O novo sistema desejado reduz os custos econômicos e políticos da punição, e,
ao mesmo tempo, aumenta sua eficiência assim como a universaliza. Segundo
Foucault (1975, p. 92):
Ao nível dos princípios, esta
nova estratégia se formula comodamente dentro da teoria geral do contrato.
Considera-se que o cidadão aceitou de uma vez por todas, junto com as leis da
sociedade, aquela mesma que ameaça puni-lo. O criminoso aparece então como um
ser juridicamente paradoxal. Ele rompeu o pacto, ele é, portanto, o inimigo de
toda a sociedade, mas ele participa da punição que se exerce sobre ele. O crime
mais insignificante representa um ataque a toda a sociedade; e toda a sociedade
– inclusive o criminoso – está presente na mais insignificante punição. O
castigo penal assume, dessa forma, uma função generalizada, coextensiva ao
corpo social e a cada um de seus elementos. Coloca-se assim o problema da
“medida” e da economia do poder de punir.
Ao direcionar o problema para a
sociedade, essa nova forma de punição requer também uma nova tecnologia, que
Foucault denomina tecnologia de representação. Uma de suas preocupações era
evitar arbitrariedade; por essa razão, a relação entre o crime e o procedimento
penal tinha de ser transparente para tornar a punição eficiente, efetiva e
humana. Por outro lado, essa forma de punição procura tornar difícil a
reincidência do crime: a punição tinha, pois, de se tornar indesejável ao
criminoso, através do cálculo de prazer e pena, isto é, ser capaz de levar o
criminoso a calcular as vantagens e desvantagens de continuar praticando o
crime.
preciso conhecer o criminoso em
grande detalhe para aplicar a punição correta. Dessa forma, a classificação do
criminoso, do crime e do tipo de punição requeria para cada crime e o criminoso
envolvido um conhecimento, que foi importante para o desenvolvimento das
ciências humanas (Foucault, 1975, pp. 75-105).
Aqui, porém, em vez dos corpos
dos condenados – como ocorria na tortura soberana –, o objetivo era o
“espírito” dos homens. O que os reformadores tentavam elaborar, portanto, era,
segundo Foucault (1975, p. 105), “uma sorte de receita geral para o exercício
do poder sobre os homens:
O espírito como lugar de
inscrição para o poder, tendo a semiologia por instrumento; a submissão dos
corpos pelo controle das ideias”. Assim, em vez da punição pública na forma de
tortura, os reformadores propunham trabalhos públicos. Com o trabalho
realizado, o criminoso pagaria duas vezes pelo seu crime: com o produto de seu
trabalho e com os emblemas produzidos por sua atividade. A sociedade, por sua
vez, receberia um duplo pagamento: o produto do trabalho e a lição do exemplo.
Ademais, esse tipo de punição não
deixava o caminho aberto para a resistência popular. Pelo contrário, a
população seria moralizada pela internalização dos emblemas produzidos por essa
punição.
Se o projeto teorizado pelos
reformadores humanistas não foi totalmente aplicado, Foucault argumenta, muitos
elementos incorporados naquelas propostas entraram na tecnologia disciplinar da
prisão. A prisão é, na verdade, a terceira figura da punição apresentada por
Foucault em Vigiar e punir.
A prisão, como se pode ver no
exemplo holandês da Casa de Força de Ghent, combinava imperativos econômicos e
sociopolíticos. No caso holandês, as casas de trabalho correcionais pretendiam
reabilitar os indivíduos criminosos e incorporá-los no sistema social por meio
de imperativos econômicos; na prisão, os prisioneiros deviam trabalhar para
pagar por sua manutenção, que era dispendiosa. O trabalho era também concebido
para ajudar a uma educação em linha com a ética protestante, contribuindo,
portanto, para aumentar a produtividade e incrementar o bem-estar da sociedade.
Numa sociedade protestante, por outro lado, o trabalho devia ser remunerado,
mesmo na prisão: o criminoso lá era então pago por seu trabalho.
O modelo inglês, afirma Foucault,
refinou o modelo holandês, adicionando a este o isolamento no trabalho. Os
reformadores ingleses pensavam que […] o isolamento constitui um “choque
terrível” a partir do qual o condenado, escapando das más influências, pode
fazer um retorno sobre si mesmo e redescobrir no fundo de sua consciência a voz
do bem; o trabalho solitário se tornará então um exercício tanto de conversão
como de aprendizagem; ele não reformará simplesmente o jogo de interesses
próprio ao homo oeconomicus, mas também os imperativos do sujeito moral
(Foucault, 1975, p. 125).
Assim, o confinamento aqui era
concebido como capaz de contribuir também para transformar o espírito e o
comportamento do condenado. Mas há ainda o modelo norte-americano,
exemplificado pela prisão de Walnut Street, na Filadélfia. Nesta, segundo
Foucault, as características dos modelos holandês e inglês apareciam combinadas
para formar uma instituição total.
O imperativo econômico do
trabalho era suplementado pela cuidadosa organização do tempo de cada
indivíduo, com o objetivo de aumentar sua eficiência e produtividade. O
imperativo moral também desempenhava seu papel fornecendo uma diretiva
espiritual ao condenado. Deve-se também acrescentar que, neste caso, a punição
era levada a efeito de forma secreta.
Assim, o confinamento aqui era
concebido como capaz de contribuir também para transformar o espírito e o
comportamento do condenado. Mas há ainda o modelo norte-americano,
exemplificado pela prisão de Walnut Street, na Filadélfia. Nesta, segundo
Foucault, as características dos modelos holandês e inglês apareciam combinadas
para formar uma instituição total.
O imperativo econômico do
trabalho era suplementado pela cuidadosa organização do tempo de cada
indivíduo, com o objetivo de aumentar sua eficiência e produtividade. O
imperativo moral também desempenhava seu papel fornecendo uma diretiva
espiritual ao condenado. Deve-se também acrescentar que, neste caso, a punição
era levada a efeito de forma secreta.
No modelo da prisão, a punição
não tinha o mesmo sentido de insight público e moral que buscavam os reformadores
humanistas. Ele, em vez disso, apontava para uma modificação comportamental do
corpo do condenado, por meio de técnicas administrativas de conhecimento e
poder, com o objetivo de produzir corpos dóceis. Assim, a punição no modelo da
prisão estava, como na tortura soberana, dirigida ao corpo. Agora, porém,
buscava não mais destruí-lo, pelo seu desmembramento ou mutilação antes da
morte. Em vez disso, o objetivo é discipliná-lo, pelo treinamento, exercício,
supervisão, de forma a torná-lo dócil e produtivo.
A prisão, no entanto, era apenas
uma entre as instituições que incorporavam a nova forma de poder descrita por
Foucault. Escola, hospital, fábrica e quartel são outros exemplos. De fato,
para ele, o poder disciplinar ou as relações de poder levadas a efeito pela
disciplina são a verdadeira característica das sociedades modernas, isto é, das
sociedades disciplinares. Disciplina aparece, então, como a palavra-chave no
diagnóstico que Foucault faz da sociedade moderna. Por outro lado, ele concebe
disciplina como uma técnica que substitui as velhas formas de relações de
poder.
Entretanto, não se pode perder de
vista que, para Foucault, a emergência dessa nova forma de poder não significa
dizer que as formas antigas desaparecem. Pelo contrário, o que ocorre é uma
colonização das antigas formas de poder pela nova, de modo a aumentar sua
eficiência:
A “disciplina” não se identifica
nem com uma instituição nem com um aparelho; ela é um tipo de poder, uma
modalidade para exercê-lo, comportando todo um conjunto de instrumentos, de
técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; ela é uma
“física” ou uma “anatomia” do poder, uma tecnologia (Foucault, 1975, p. 217).
Foucault distingue a sociedade
moderna, cuja formação se refere a certos processos históricos como o
econômico, o jurídico-político, o científico etc., de sociedades mais antigas,
pelas formas disciplinares de controle que têm lugar na sociedade moderna. Para
forjar corpos dóceis, a sociedade moderna desenvolve uma tecnologia disciplinar
que age sobre o corpo do indivíduo, dividindo-o (num sentido metafórico) em
partes (pernas, braços), analisando-o e treinando-o para controlar as partes e
o todo. A divisão do espaço e do tempo é também, afirma Foucault, parte do
processo de construção desse poder disciplinar, cuja figura paradigmática ele
identifica no panóptico de Jeremy Bentham:
Um tipo de “ovo de Colombo” na
ordem da política. Ele é capaz, com efeito, de vir a se integrar a uma função
qualquer (de educação, de terapêutica, de produção, de castigo); de majorar
essa função, ligando-se intimamente a ela; de constituir um mecanismo misto no
qual as relações de poder (e de saber) podem se ajustar exatamente, e até o
nível do detalhe, aos processos que é preciso controlar; de estabelecer uma
proporção direta entre o “mais poder” e o “mais produção”. Em poucas palavras,
ele o faz de forma que o exercício do poder não seja exercido a partir do
exterior, como um constrangimento rígido ou como um peso, sobre as funções que
ele investe, mas que ele esteja nelas tão sutilmente presente, de maneira a
acrescentar sua eficácia, aumentando, também, sua influência.
O dispositivo panóptico não é
simplesmente uma dobradiça, um permutador entre um mecanismo de poder e uma
função, é uma maneira de fazer funcionar relações de poder numa função, e uma
função por essas relações de poder. O panoptismo é capaz de “reformar a moral,
preservar a saúde, revigorar a indústria, difundir a instrução, aliviar os
encargos públicos, estabelecer a economia como sobre uma rocha, destravar, em
vez de cortar, o nó górdio das leis sobre os pobres, tudo isso por uma simples
ideia arquitetural (Foucault, 1975, p. 208).
Numa simples palavra, é a
panaceia para resolver qualquer tipo doença social. Embora Foucault esteja a
par de que essa paradigmática figura idealizada por Bentham nunca foi de fato
empiricamente colocada em prática, muitas de suas características estão
presentes em instituições como fábricas, hospitais, escolas e prisões.